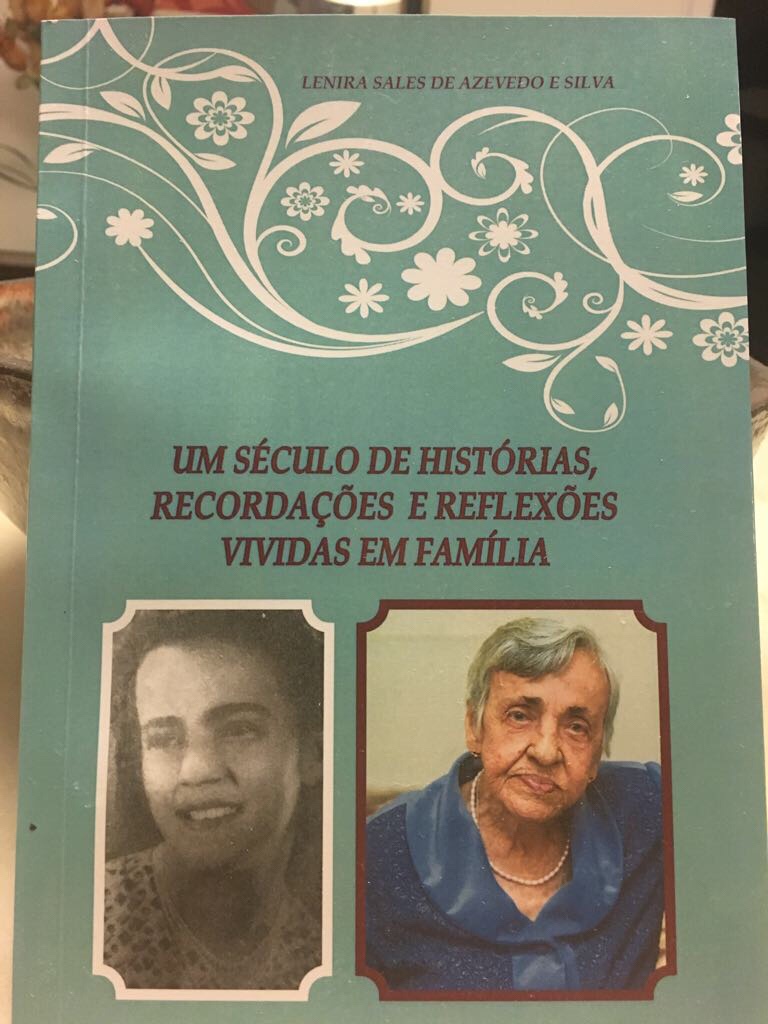Zé Antônio Sales
13 de março de 2018
“Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia”. Shakespeare, como gênio que era, sabia que coisas existem nas nossas vidas que mesmo um sábio não consegue explicar. Como diz um antigo ditado espanhol, “yo no creo em las brujas, pero que las hay, las hay”
Quando descobri que estava com câncer no rim, meu desejo foi ir para Maranguape, no Ceará, consultar-me com dona Nazaré, que faz seções de cura usando apenas suas mãos, ou melhor, as mãos da índia Tapuinhas. Minha irmã se ofereceu para me acompanhar. Decidido, no dia seguinte estávamos voando para Fortaleza, onde alugamos um carro e 40 minutos depois chegamos na casa de dona Nazaré. O que aconteceu lá, minha irmã já relatou com detalhes, no seu blog Momentear de 18 de fevereiro de 2018.
Incorporada na índia Tapuinhas, ela nada mudou, nem nos gestos, nem na fala, mas, através de suas mãos, era a índia Tapuinhas quem atuava. Mãos pequenas e delicadas, tocava meu corpo sutilmente, carinhosamente, até encontrar o que estava procurando. Estacionava seus dedinhos naquele local e, como num passe de mágica, extraia objetos das formas mais diversas. Em cada local, coisas nojentas eram retiradas, trouxinhas amarradas com linha, tiras parecidas com pedaço de bacon seco, bucha de polir carro, pedaços de ferro, e assim foi. Tirou mais ou menos uns 15 troços desses. “Você tem o corpo muito aberto, meu filho, recebe todo tipo de energias negativas, mesmo quando não são dirigidas para você”. Na verdade, acho que as coisas que sairam de mim, eram as energias ruins acumuladas, materializadas nessas formas estranhas. Para o fechamento do corpo, durante três noites, foi feito um trabalho por um pai de santo, indicado por ela. Tô com corpo fechado agora.
Vendo a Tapuinhas trabalhar com as mãos, não pude deixar de pensar em meu pai e do poder que ele também tinha com as mãos. Meu pai era médico clinico geral e ginecologista em Garanhuns. Parece que era o único medico na cidade que atendia a chamados de emergência nos sítios mais distantes, quase sempre à noite. Geralmente eram partos complicados, quando a parteira local já não conseguia solucionar. Era comum um pai desesperado, com a vida da mulher e do filho para nascer em risco, bater à nossa porta altas horas da noite. Quase sempre, pessoas muito pobres, cuja única esperança era o doutor Sales. Me lembro de minha mãe fazendo um café forte, e dele, vestindo seu capote longo e colocando a boina de lã, saindo no frio de Garanhuns, com sua maleta de médico, para mais uma jornada de trabalho complicado. Nunca perdeu uma criança, meninos enlaçados, de bunda, atravessados, vinham à luz pelas suas mãos. Mãos milagrosas, diziam. Se fosse menino, quase certo, teria seu nome e ele seria o padrinho. Isso lhe dava uma satisfação que dinheiro nenhum pagaria. Me lembro dele anotando com grande satisfação em um caderninho, o nome dos pais de seus afilhados chamados de José Antonio.
Existiam muitas histórias de suas andanças para esses atendimentos. Uma das vezes, estava voltando de um sítio distante, de madrugada, quando se deparou com um monte de gente na estrada. Parou o carro, e viu que aquelas pessoas estavam assistindo a uma briga mortal, com faca peixeira, entre dois homens. Atravessou por entre as pessoas, em direção aos brigantes raivosos e gritou, com a autoridade que lhe era peculiar, para pararem imediatamente, separando os dois, já com alguns ferimentos. Assustados com aquele homem alto, de capote e boina escuros, surgido da madrugada, ouviram atentos quando falou: passei a noite toda até essa hora para dar a vida a uma criança e vocês querem tirar a vida um do outro? Me deem as peixeiras e vão para casa. Pegou as facas e mandou todo mundo embora. Entrou no carro e seguiu seu caminho.
Outra história pitoresca foi contada por Dom Gerardo Wanderley no sermão da missa em comemoração aos 100 anos de seu nascimento, no mosteiro de São Bento, em Garanhuns. Meu pai estava atendendo uma mulher, numa época em que ainda não existiam exames tipo tomografia computadorizada, onde se vê tudo por dentro sem nenhum contato físico com o paciente. Tudo era feito com as mãos, apalpando e perguntando, dói aqui, dói ali, sente isso, sente aquilo … Nisso, o matutinho, marido ciumento, não gostou das apalpadelas e falou: “Doutor vamos fazer o seguinte, eu incarco e o senhor pregunta!”. Meu amigo Ismael Caldas, que também era afilhado de meu pai, contava que, pequeno, quando estava doente, meu pai era chamado e, de apenas tocar sua cabeça carinhosamente com as mãos, era o suficiente para ele ficar bom.
Por outro lado, os atendimentos gratuitos que ele fazia, eram compensados com gratidão nas épocas de natal, quando nosso quintal ficava cheio de perus, galinhas, carneiros e outros bichos. Nossa cozinha se enchia de melancias, milho, feijão, favos de mel e outras ofertas. Nesse presentear, sobrava até para mim, que também sou Zé Antonio. Uma vez, ganhei um carneiro branco amestrado, com os arreios completos, selinha, cabresto, tudo. Botei seu nome de Jasmim. Montado em Jasmim, eu era Durango Kid, dos seriados de cowboy, nas matinês de domingo no cinema Eldorado. Ganhei também um xexeu de bananeira, passarinho bonito e cantador, com plumagem preta e amarela. Era mansinho e sua gaiola ficava aberta, ele podendo voar para o quintal voltando quando quisesse. Até o dia que virou jantar de Cotiabá, nosso cachorro feroz.
Mãos e olhos são os sentidos de nosso corpo por onde mais se emanam energias. O olhar de meu pai era severo. Eu, criança hiperativa com distúrbio de atenção, era impulsivo e incontrolável. Só o olhar de meu pai era capaz de me desacelerar. Odiei esse olhar a vida inteira. Nunca me bateu, apenas ameaçava com uma tabica de marmeleiro, por ele denominada de grã-fina, que era apenas decorativa, pendurada na parede do seu quarto. Ah, como eu preferia uma boa surra com a grã-fina, aos seus sermões moralistas de censura, que me faziam chorar e me sentir ninguém. Ele tinha a autoridade do homem correto, honesto, que não fumava, não bebia e fazia o bem, era inquestionável. Tinha essa força moral com todos. Meus primos fumavam na frente de seus pais, mas não na frente do meu, embora ele nunca tivesse dito para não fumar. Meu avô, seu pai, o tratava, como se ele é que fosse o pai, com obediência e respeito.
Morreu muito novo, aos 57 anos, de câncer, eu tinha 18. Mesmo na sua morte, me senti culpado, pois não senti tristeza, nem sentiria sua falta. Ao contrário, senti alegria e uma sensação imensa de liberdade. A espada ameaçadora tinha sido retirada da minha nuca.
Quem poderá julgar nossa relação? Não se trata de certo ou errado, os dois tinham suas atitudes e seus motivos. Sabe-se hoje que crianças com a minha síndrome, não são crianças fáceis e, em conseqüência da dificuldade para integração social, têm uma grande tendência à marginalidade, contestação e transgressão. Com certeza eu não atendia a suas expectativas.
O fato é que, hoje, dia 13 de março de 2018, completando 74 anos, faço as pazes com ele. As mãos da Tapuinhas me conectaram com as mãos de meu pai e me trouxeram a paz de espírito. Agora mesmo, no silêncio do Poço da Panela, na varanda de minha casa, que por acaso foi a casa onde meu pai morreu, deitado na rede escrevendo esses pensamentos, um sabiá, na castanhola da frente, canta estridentemente sua melodia improvisada como num jazz. Com certeza, para homenagear esse momento.